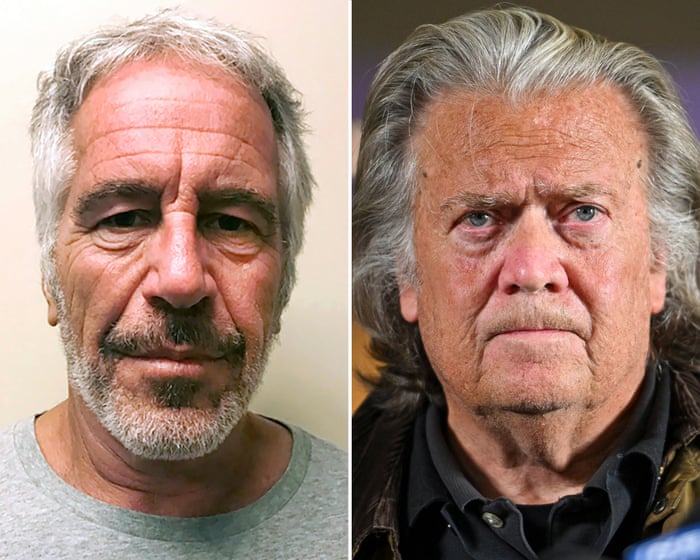Cresci numa casa onde nada alemão era permitido. Nada de lava-louças Siemens ou máquina de café Krups na cozinha, nada de Volkswagen, Audi ou Mercedes na garagem. Essa regra vinha da minha mãe. Ela não era uma sobrevivente do Holocausto, mas tinha sentido a sombra da Shoah bem de perto. Ela tinha apenas oito anos em 27 de março de 1945, quando sua própria mãe foi morta pelo último foguete alemão V-2 a atingir Londres. Essa bomba destruiu parte do East End, matando 134 pessoas, quase todas judias. De uma forma ou de outra, o impacto daquela explosão moldaria o resto da vida da minha mãe — e grande parte da minha.
Ela sabia que a bomba não tinha como alvo deliberado os Hughes Mansions. Mas também sabia o quanto os nazistas teriam ficado satisfeitos com o resultado — que o destino, ou o acaso, tinha escolhido um local onde tantos judeus morreram. Às 7h21 daquela manhã de março, somou mais 120 ao número final de seis milhões. Assim nasceu a regra: nenhum vestígio da Alemanha tocaria nossa família. Nada de visitas, nada de férias, nada de contato. Aos seus olhos, os alemães eram uma nação culpada, cada um deles implicado no pior crime do século XX.
Outras famílias judias que conheci tinham regras semelhantes, mas poucas eram tão rigorosas quanto as da minha mãe. Ainda assim, sua crença subjacente não era incomum. Muitas pessoas, dentro e fora da comunidade judaica, compartilhavam — e talvez ainda compartilhem — a ideia com a qual fui criado: que, exceto por algumas exceções, Adolf Hitler encontrou um cúmplice disposto na nação alemã.
Muitas vezes ouvimos sobre a resistência francesa e os movimentos subterrâneos em toda a Europa, mas raramente aprendemos sobre a oposição dentro da própria Alemanha. Muitos assumem que os dissidentes foram rapidamente presos depois que os nazistas assumiram o poder em 1933: “Primeiro eles vieram pelos comunistas…” Mas isso não é totalmente preciso. Alguns alemães desafiaram o Terceiro Reich desde o início e durante todo o seu reinado. Depois da guerra, um investigador aliado estimou que três milhões de alemães tinham estado dentro e fora de prisões ou campos de concentração por atos de dissidência — às vezes punidos apenas por um comentário crítico.
Eles compartilhavam informações proibidas, sussurravam planos e sonhavam com um futuro livre do governo do Führer.
Em 1933, havia 67,7 milhões de cidadãos alemães. A vasta maioria — mais de 95%, incluindo crianças — fazia o que era mandado. Eles saudavam e diziam: “Heil Hitler!”. Mas nem todos o faziam.
O que é preciso para sair da linha assim? O que faz alguém se recusar quando todos os outros obedecem? E por que correr esse risco quando ficar calado é muito mais fácil, e a desafiação traz apenas dor, dificuldade ou morte?
Qualquer pessoa que tenha olhado de perto para os horrores da metade do século XX provavelmente fez essas perguntas, especialmente uma: O que eu teria feito? A maioria de nós gosta de pensar que teria sido corajoso — um dos rebeldes. Mas os números sugerem o contrário. A maioria de nós teria ficado em silêncio.
Há mais de três anos, deparei-me com a história de um grupo da alta sociedade de Berlim que pertencia a essa categoria rara: eles se recusaram a curvar-se a Hitler. Sua história, em grande parte esquecida exceto por alguns especialistas, foi marcada por uma crueldade terrível, mas no seu cerne havia algo igualmente difícil de explicar: uma bondade radical, desnecessária e mortalmente perigosa.
Havia também uma reviravolta. Esses indivíduos notáveis desafiavam o regime principalmente sozinhos, através de atos de... Os esforços de resgate e resistência eram clandestinos e nunca falados abertamente. Mas num dia fatídico — e finalmente fatal —, eles convergiram.
Oficialmente, era uma festa de chá para celebrar o aniversário de um amigo. Na realidade, era uma chance para trocar informações proibidas, compartilhar planos sussurrados e conspirar por um futuro livre do governo do Führer. Naquela tarde, eles se confortaram com sua camaradagem e o alívio de saber que não estavam sozinhos. No entanto, essa mesma reunião levaria à sua queda, devido a uma ameaça que nenhum tinha antecipado — uma que veio de dentro.
Como eles foram parar lá naquele dia? Como um punhado da elite de Berlim, mais acostumada a noites na ópera e festas em embaixadas, se envolveu em um drama que logo se tornaria mortal — cujas consequências chegariam aos mais altos escalões do estado nazista? Por que aqueles que poderiam facilmente ter ficado quietos e longe de problemas escolheram arriscar tudo?
Seu caminho para a rebelião não foi suave nem direto. Cada um chegou à decisão à sua própria maneira, muitas vezes por rotas sinuosas e indiretas. Para alguns, nem foi uma escolha — pareceu a única resposta possível ao mundo que escurecia ao seu redor. Essas questões pesavam especialmente na Alemanha dos anos 1930 e 1940, mas não se limitam àquele tempo ou lugar. Alguns ainda ecoam através das décadas, e alguns ressoam particularmente forte hoje.
Para entender os indivíduos notáveis deste grupo, ajuda começar com Maria Helene Françoise Izabel von Maltzan, Baronesa de Wartenberg e Penzlin — e o dia de outono de 1943 em que a Gestapo bateu à sua porta.
Maria tinha apenas 34 anos. Agora, homens armados invadiam sua casa, procurando o judeu — ou judeus — que tinham certeza de que ela estava escondendo. Por acaso, havia um judeu na mesma sala onde ela estava, escondido e prendendo a respiração. Ainda assim, ela se recusou a mostrar qualquer traço de medo. De seus encontros anteriores com a polícia secreta, ela tinha aprendido uma lição vital: confiança era tudo. A chave era projetar uma autoconfiança inabalável.
O homem escondido era seu amante, Hans Hirschel. Eles tinham se preparado para esse momento por mais de 18 meses. Quando ele se mudou, Hans trouxe um sofá-cama pesado de mogno com uma base grande o suficiente para alguém se deitar dentro. Uma vez que as almofadas estavam no lugar, a abertura era invisível. Maria adicionou ganchos e ilhoses para que quem estivesse dentro pudesse trancá-lo por dentro, tornando impossível abri-lo do exterior.
Hans tinha preocupação de poder sufocar, então Maria usou uma furadeira manual para fazer buracos de ar, cobrindo-os por dentro com tecido vermelho para combinar com o sofá. Cada dia, ela colocava um copo de água dentro, junto com codeína suficiente para suprir sua tosse persistente — que de outra forma poderia entregá-lo. O esconderijo estava sempre pronto, esperando por uma emergência.
Agora essa emergência tinha chegado. Hans estava dentro, fazendo o possível para ficar em silêncio enquanto os dois homens da Gestapo reviravam o apartamento.
Ele podia ouvi-los. Um aviso tinha chegado horas antes. A zeladora do prédio tinha passado a Maria um cartão de índice amarelo deixado no corredor. Apenas cinco palavras — uma nem mesmo uma palavra de verdade — mas o suficiente para significar uma sentença de morte:
“Na casa de Maltzan há ‘J’!”
Era o tipo de denúncia muito comum em Berlim na época, enquanto vizinhos acusavam uns aos outros de esconder judeus. Olhos bisbilhoteiros estavam por toda parte, observando qualquer sinal de um ariano escondendo alguém em um sótão ou porão. Às vezes, os acusados até se tornavam acusadores — para desviar suspeitas e ganhar favores com a polícia secreta. Hans e Maria tinham certeza de que a polícia tinha chegado. A mulher que escreveu a nota — aparentemente misplaced por um oficial da Gestapo — já estava sob suspeita. Então, quando a batida veio, não foi surpresa.
Maria abriu a porta para dois homens exigindo entrada. Ela os atrasou apenas o tempo suficiente para Hans escorregar para o quarto e rastejar silenciosamente para o espaço oco sob o colchão, deitando-se plano. Eram 14h30.
Os agentes da Gestapo se moveram rapidamente, puxando gavetas e arrombando armários. Logo encontraram uma fileira de ternos masculinos e confrontaram Maria. Ela disse a verdade: ela tinha dado à luz um menino no setembro anterior e disse: “Posso assegurar-lhes, ele não nasceu do Espírito Santo.” Só então ela mentiu, nomeando o pai não como Hans, mas como Eric Svensson, um amigo gay que tinha fingido ser seu amante.
A busca continuou. Escondido na caixa, Hans podia ouvir passos no assoalho. Maria estava jogando uma bola para seus dois cães. Os homens da Gestapo, claramente irritados, disseram para ela parar, mas ela se recusou, explicando que era a hora usual dos cães para seu passeio da tarde. Eles precisavam de exercício.
Às três horas, depois quatro, o interrogatório continuou. “Sabemos que uma garota judia usou seu apartamento por duas semanas,” disseram, certos de que não tinham perdido nada.
“É verdade que empreguei uma garota, mas ela não era judia,” Maria respondeu. “Seus documentos estavam completamente em ordem.”
“Não, eles eram falsos,” insistiu um dos homens.
Maria perguntou como ela, uma mera estudante de veterinária, poderia saber sobre tais coisas, agindo chocada com a ideia.
A essa altura estavam no quarto. Hans podia ouvir as três vozes enquanto o interrogatório formal começava. Os homens disseram a Maria para sentar, e ela se abaixou no sofá-cama.
“Sabemos que você está escondendo judeus,” disseram.
“Isso é completamente ridículo,” Maria respondeu com toda a arrogância que pôde reunir. Apenas centímetros abaixo dela, Hans permanecia imóvel.
Ela gesticulou em direção ao retrato de seu pai, um aristocrata em uniforme de gala, que ocupava um lugar de destaque na sala. “Vocês não acreditam que eu, como filha deste homem, estou escondendo judeus.”
Hans permaneceu rígido, ouvindo cada palavra. Então veio o momento que ele temia.
Os homens da Gestapo insistiram que Maria abrisse os dois sofás-cama no quarto. Hans ouviu-a abrir o primeiro facilmente, sem dúvida revelando o espaço vazio inside com um floreio, como para mostrar que os agentes estavam perdendo tempo.
Eles se viraram para o segundo — o dele. Ele podia sentir movimento, o esforço para levantar a tampa.
“Desculpe, não abre,” Maria disse. Ela explicou que tinha tentado abri-lo logo depois de comprá-lo, mas estava emperrado. Os homens não ficaram convencidos. Eles puxaram, determinados a forçá-lo a abrir.
Então Maria arriscou, numa jogada que exigiu um autocontrole de ferro. Hans ouviu suas palavras, mas não pôde reagir enquanto ela fazia sua sugestão à Gestapo.
“Peguem sua arma e atirem através do sofá.”
Ela soou mortalmente séria, como se oferecendo uma solução razoável para o impasse. “Se não acreditam em mim, tudo que têm a fazer é pegar sua arma e atirar através do sofá.”
Quanto tempo Hans ficou deitado lá, esperando a resposta dos nazistas? Quanto tempo as palavras de Maria pairaram no ar enquanto ele se preparava? Teria levado apenas um segundo para um deles sacar uma pistola e chamar seu blefe. Se o fizessem, quanto tempo levaria para Hans morrer? Alguns segundos? Um minuto?
Estaria um deles agora mesmo — Ele apontou sua arma para a caixa da cama, o cano a apenas centímetros de distância. Então Maria falou novamente.
“No entanto,” ela disse. Ela tinha uma condição: se eles abrissem fogo, ela insistia que fornecessem uma nota de crédito para novo tecido de estofamento e cobrissem os custos do reparo. Ela foi firme — não haveria “móvel esfarrapado” em sua casa. “E quero isso por escrito de vocês, antecipadamente.”
Depois de quase uma década lidando com funcionários e burocratas de todos os tipos do Nacional-Socialismo, Maria tinha aprendido mais uma coisa: tais homens temiam ultrapassar sua autoridade. Haveria formulários de despesas para preencher, superiores para prestar contas. Com certeza, as balas permaneceram em suas câmaras.
Às 18 horas, os agentes da Gestapo finalmente foram embora. Eles passaram quase quatro horas no apartamento e saíram com nada além de uma promessa da condessa de que se a garota judia reaparecesse, ela a reportaria imediatamente.
Só quando Maria teve certeza de que os homens tinham ido embora para sempre é que ela sinalizou para Hans desfazer o selo de seu esconderijo e sair. Ele emergiu mortalmente pálido, úmido de suor, convencido de que aquelas longas horas poderiam ter sido suas últimas. O que o salvou foi a confiança inabalável da mulher que ele chamava de Maruska. Embora agora vivesse em uma loja abandonada de Berlim como estagiária de veterinária, ela vinha de uma classe que tinha governado a terra por séculos. Nem mesmo a Gestapo podia intimidá-la — pelo menos, ainda não.
A agenda de Otto Kiep estava sempre cheia, menos por causa de seu charme social ou de sua jovem esposa, e mais devido à sua posição como cônsul-geral da Alemanha em Nova York. Convites chegavam diariamente, mas um se destacou: um jantar em homenagem a um dos homens mais admirados do mundo, o Professor Albert Einstein.
Marcado para meados de março de 1933, o planejamento tinha começado meses antes, bem antes dos nazistas tomarem o poder no final de janeiro. Inicialmente, convidar o representante oficial da Alemanha em Nova York era simplesmente uma cortesia — Einstein era, afinal, uma das figuras mais distintas do país. Mas quando Otto Kiep olhou para o convite em sua mesa, seu significado tinha mudado completamente.
Einstein era agora um símbolo, além de um homem — um judeu em um país que tinha se voltado contra seus judeus. Um jantar em sua homenagem inevitavelmente se tornaria um comício em solidariedade com os judeus perseguidos da Alemanha e um protesto contra o novo governo nazista. Se Otto comparecesse, estaria se colocando ao lado dos manifestantes. Aos olhos de seus superiores, estaria tomando partido do inimigo — um traidor.
No entanto, se ele recusasse, estaria tacitamente endossando aqueles que perseguiam Einstein, tanto na Alemanha quanto em Nova York. Otto tinha até ouvido falar de um plano de assassinato contra o cientista: um grupo de... estudantes alemães de intercâmbio na Universidade de Columbia estavam planejando assassinar Einstein logo antes de ele embarcar no navio para retornar à Europa.
Com a tensão aumentando, a situação ficou mais clara para Otto. Comparecer ao jantar em homenagem a Einstein significaria o fim de sua carreira diplomática. Recusar significaria alinhar-se com o Nacional-Socialismo e seus apoiadores violentos. Essa era a escolha que ele enfrentava.
Era 16 de março de 1933, e Einstein tinha chegado a Nova York. Cercado por repórteres, ele elogiou "a contribuição da Alemanha para a cultura humana" como "tão vital e significativa que você não pode imaginar o mundo sem ela." Ele acrescentou que era ainda mais triste que "os verdadeiros representantes dessa cultura estejam agora sendo maltratados em seu próprio país." Qualquer ambiguidade sobre o que o apoio público de um oficial alemão a Einstein significaria — qualquer área cinzenta onde Otto pudesse ter encontrado cobertura diplomática — agora tinha desaparecido. Ele tinha que decidir.
Ele resolveu fazer o que acreditava ser melhor para o país que servia e amava. Pelo bem da reputação da Alemanha e em nome da decência, ele aceitou o